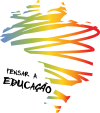Karla Magna dos Santos Gonçalves
Francisco Ângelo Coutinho
A contextualização na educação em ciências é compreendida como a criação de uma conexão entre um conceito e seus significados, de modo a situar o estudante em relação ao conteúdo estudado, o que pode proporcionar uma melhor aprendizagem de ciências. Contextualizar, muitas vezes, refere-se também a ultrapassar as fronteiras das disciplinas, evidenciando como o conteúdo pertence a diferentes esferas do conhecimento. Por essa razão, é comum que a contextualização seja relacionada com a interdisciplinaridade, notadamente em documentos oficiais como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A interdisciplinaridade na BNCC é um meio de pensar uma organização para as associações possíveis entre os diferentes componentes curriculares. Na BNCC, seção de ciências da natureza, não vemos menção explícita à interdisciplinaridade, mas o documento posiciona a contextualização como algo para além da exemplificação de conceitos, indicando então o objetivo de favorecer o protagonismo do estudante no “enfrentamento de questões sobre consumo, energia, segurança, ambiente, saúde, entre outras” (p. 549). Tal proposta evoca a necessidade de pensarmos não somente nas possíveis organizações e associações entre os diferentes componentes curriculares, mas na produção de novas formas de pensar e desenvolver atividades didáticas.
A BNCC apresenta dois modos de contextualização na educação em ciências: introduzir como determinado conhecimento científico foi construído, levando em consideração os aspectos históricos que envolvem essa criação; e relacionar o conhecimento científico com a realidade dos estudantes. Esses dois aspectos são relevantes se queremos proporcionar aos nossos estudantes as ferramentas básicas para interpretar como as ciências atravessam as suas vidas. Mas pensar a contextualização nessas perspectivas evoca uma questão: a necessidade de criar uma conexão entre o que o estudante estuda e o que ele vive, não seria supor que essas coisas estão separadas?
Em outros momentos talvez fosse possível sustentar a ilusão de uma dicotomia separadora entre a realidade do estudante e as ciências. Porém, nos encontramos em um momento em que as interações do homem causaram um impacto profundo no clima e no ambiente como um todo, levando ao aquecimento global, à sobrecarga de produtos químicos tóxicos em alimentos, ao esgotamento de lagos e rios (causados pela atividade mineradora), ao genocídios de povos e à extinção de outras espécies que compartilham o planeta conosco. Podemos chamar essa época, nomeada de Antropoceno, como o “tempo das catástrofes” (Stengers) ou de a “época dos terrores ambientais” (Tsing). De qualquer modo, importa notar que vivemos em um período, segundo Latour, no qual se desfazem as ilusões da modernidade de uma separação entre os humanos e os não-humanos, entre os polos da natureza e da sociedade.
Com os desafios do Antropoceno começa a imperar uma noção de exigência e urgência de transformação da educação para a realidade que se apresenta. Precisamos ser realistas. Não estamos procurando soluções para reverter as colossais transformações que emergem rapidamente, mas sim mobilizar reflexões que possam nos ajudar a aprimorar os processos de ensino, em busca de compreender como as relações entre sociedade e natureza nos permitem atuar em nossos mundos compartilhados. Precisamos desacelerar, como afirma Stengers, e nos afastar das noções de progresso e modernidade, encontrando formas de examinar o tempo e o espaço em que estamos vivendo. E é na desaceleração do progresso imposto pela modernidade que as ecologias emergem. Se a modernização busca separar a sociedade da natureza, ecologizar se refere a encontrar o vínculo esquecido, mas nunca perdido, entre sociedade e natureza.
Para vivermos no Antropoceno, devemos aprender a nos movimentar pelas suas ruínas, como afirma Anna Tsing. Ou, como nota Donna Haraway, se quisermos uma maneira de viver e morrer bem, precisamos incluir o luto pelas perdas irreversíveis nas nossas ações reflexivas. As ecologias nos permitem traduzir os coletivos sociais e a encontrar alternativas que não sejam o apocalipse iminente ou o futuro radiante do progresso. Ecologizar é uma prática transdisciplinar e sociopolítica. Então, como podemos ecologizar as nossas práticas educacionais? A educação em ciências nos permite falar sobre os conceitos, mas nos faltam modos de descrever as nossas experiências. Primeiramente, precisamos encontrar formas de mostrarmos uma relação não predatória da natureza, aprender como humanos e não-humanos existem e coexistem.
As ecologias não estarão nos espaços formais de educação, nos livros didáticos ou nos currículos oficiais. Esse novo modo de pensar a educação em ciências está nas comunidades de humanos e não-humanos, que se organizam, se reconstroem e resistem frente às catástrofes; com a ocupação das cidades, nos espaços não-formais de educação que são criados debaixo dos viadutos; em como o verde floresce no concreto dos prédios abandonados das metrópoles. Ecologizar é ser sensível às múltiplas realidades que coexistem no nosso mundo. Essa proposta não possui um passo a passo a seguir. Para ecologizarmos, precisamos de ação e de uma disposição para atravessar muros que nunca existiram, mas que costumávamos acreditar que estavam lá. Dito isso, fica o convite para pensarmos a ecologização na educação em ciências e, em um próximo artigo, apresentaremos uma proposta para materializar essa noção.
Para saber mais
HARAWAY, D. Antropoceno, capitaloceno, plantationoceno, chthuluceno: fazendo parentes. ClimaCom Cultura Científica, v. 3, n. 5, p. 139-146, 2016.
LATOUR, B. Jamais fomos modernos: ensaio de antropologia simétrica. Rio de Janeiro: Editora 34, 1994.
STENGERS, I. No tempo das catástrofes. São Paulo: Cosac & Naify, 2015.
STENGERS, I. Another science is possible: A manifesto for slow science. New Jersey: John Wiley & Sons, 2018.
TSING, A. L. Viver nas ruinas. Brasília: IEB Mil Folhas, 2019.
Karla Magna dos Santos Gonçalves. Educadora Popular, Graduada em química (UFMG) e mestranda em educação e ciências (UFMG).
Francisco Ângelo Coutinho. Graduado em ciências biológicas (UFMG), mestre em filosofia (UFMG) e doutor em Educação (UFMG). Professor Associado da Faculdade de Educação da UFMG, onde atua na graduação e na pós-graduação. Líder do Grupo Cogitamus – Educação e Humanidades Científicas.
Imagem de destaque: Galeria de Imagens.