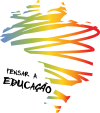Thamara Santos Guilherme
A morte de homens negros é noticiada quase que diariamente, tenham eles cometido algum delito ou não. Os negros representam 78% das pessoas mortas por armas de fogo no Brasil. Os homens negros são os maiores atingidos, representando 75% do total. Os jovens negros acima de 14 anos são maioria nas estatísticas de evasão escolar no ensino básico, eles somam 71,7% dos alunos que abandonam os estudos. Esses números denunciam um projeto de extermínio e a necessidade de se garantir aos jovens negros a possibilidade de existir de forma digna. A escola tem um papel indispensável nessa história, e falo neste texto sobre a afetividade na educação de meninos negros e periféricos, em uma tentativa de propor uma mudança perceptual sobre a relação desses jovens com a escola.
A segregação racial é constantemente invisibilizada na escola através da falta, da privação e da ausência. No campo educacional, essa falta surge em meio à dificuldade dos indivíduos e do coletivo em perceberem a pluralidade do negro e dialogar com ela. Me refiro ao afeto nas interações humana, do diálogo, da admiração e tudo aquilo que sempre foi dado à raça branca.
As relações que estudantes constroem, sejam interpessoais, com a escola e com a aprendizagem, não são estáticas. Quando estabelecidas harmonicamente, permitem a mobilização e ressignificação das barreiras impostas pelo sistema educacional, mas tais transposições não se desenvolvem igualmente para todos os indivíduos, dado que diversos elementos atuam diretamente no percurso escolar dos sujeitos. No caso de estudantes negros/as, a experimentação do racismo é um elemento que atravessa essas relações.
Os estereótipos de masculinidade negra são descritos por Mara Vigoya a partir de uma analogia do negro com a imagem do Dionísio (mitologia grega), que retrata um indivíduo dos sentidos, dotado no aspecto corpóreo e limitado na sua racionalidade. Essa personalidade dos sentidos só daria acesso ao campo das emoções, em um molde que retira qualquer autoridade desses indivíduos sobre o saber e sobre a sua própria capacidade intelectual.
Algumas ideias racistas manifestadas pelo discurso escolar ou pela omissão colocam meninos negros em um lugar de incapacidade intelectual, codificando esses corpos como violentos e descontrolados a qualquer sinal de indisciplina. Afirmam suas convicções de que esses jovens são propensos à criminalidade e não à escola, através da exclusão, da separação e da desatenção com esses indivíduos. As imagens socialmente construídas dos homens negros favorecem uma relação de afeto marcada pela falta, pelo estranhamento desses sujeitos, e a escola reproduz esses estereótipos principalmente no que diz respeito à relação entre os educadores e os alunos afrodescendentes.
É preciso pensar nos riscos de insucesso quando o professor se posiciona de maneira vertical, de forma a invalidar o discurso dos alunos, inaugurando uma relação pautada em estruturas opressoras. Faz-se necessário promover processos intersubjetivos, desenvolvendo uma mutualidade e intenção de reconhecimento recíproco entre docentes e alunos e promovendo, assim, vínculos que não estão apoiados na disciplinalização e sim no cuidado. Contudo, precisamos considerar que os meninos negros são os alvos principais dessas relações ordenadas pela noção de controle e disciplina, e que esses corpos estigmatizados são invisibilizados afetivamente dentro do espaço escolar.
No contexto estadunidense, a socialização dos jovens pobres e periféricos, majoritariamente negros, ocorria por meio de uma educação “elitista e tendenciosa”, que manipulava os ideais educativos para que esses jovens acreditassem que a força e a resistência física eram as únicas habilidades que eles precisavam para sobreviver, como afirma bell hooks. Essas instituições estavam e estão preocupadas em cumprir calendário e fazer desses corpos obedientes, sem cogitar que o rendimento escolar desses indivíduos pode não estar associados apenas ao rigor da escola, mas também com a afetividade das relações, como a demonstração de cuidado, a atenção oferecida e o reconhecimento dos méritos.
A população negra vem lutando há bastante tempo para conseguir a tão sonhada liberdade social, material e intelectual, e desde então conseguimos alguns avanços. No entanto, essas conquistas são insuficientes para a redução das desigualdades raciais no Brasil. As intervenções no âmbito escolar entram nessa história como uma ferramenta que pode fazer diferença nas problemáticas sociais que enfrentamos. Quando falamos sobre o papel da escola nesse processo, estamos falando sobre o que está sendo transmitido dentro desse espaço. Precisamos nos atentar para as ações e os discursos que inauguram e sustentam esse processo de diferenciação e exclusão de determinados grupos de alunos na escola, em especial de estudantes negros.
Sobre a autora
Psicóloga formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, cursa Especialização em Psicologia Clínica pela PUC RS.
thamarasantospsi@gmail.com
Imagem de destaque: Galeria de imagens