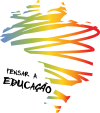Subjetividade da escrita, objetividade social: experiência coagulada de um tempo em De mim já nem se lembra, de Luiz Ruffato
Um jovem operário especializado da região industrial da Grande São Paulo escreve cartas para sua mãe que junto com o restante da família vive em Cataguases, Zona da Mata do estado de Minas Gerais. A correspondência, da qual só conhecemos a parte escrita por ele, e que foi guardada pela mãe com esmero, vai de 1971 a 1976. Nela sabemos de José Célio, seus amores, hesitações, dúvidas, frustrações. Sabemos também de seu espanto frente à cidade grande e a falta que o ambiente conhecido do pequeno município e da “roça” lhe fazem. Trata-se de livro de Luiz Ruffato, De mim já nem se lembra (São Paulo: Companhia das Letras), lançado há pouco em segunda e definitiva edição, conforme o autor.
O romance autoficcional está dividido em três partes, em que o fim é o começo: a morte da mãe traz a descoberta de uma caixa de cartas. Elas são levadas pelo filho caçula, já adulto, para serem abertas e lidas na ordenação cronológica em que estão dispostas. Do trabalho do irmão que se ocupa das coisas da mãe, mas que é um adulto que mantém congelada a imagem do mais velho quando da sua morte, décadas antes, aos vinte e seis anos, emerge a história de Célio, não como uma autobiografia que casualmente teria sido escrita por meio das cartas, mas uma narrativa sobre si e sobre as transformações do país e de parte de sua classe trabalhadora em anos sob a ditadura e seu “milagre” econômico.
O “milagre” se mostra na expansão da indústria, na acelerada vida em São Paulo junto a imigrantes diversos. Talvez o Brasil não possa ser pensado sem que se considere sua formação migratória, tanto interna, como os numerosos jovens que do interior vão formar o exército de trabalho a ser empregado em todo tipo de função nas grandes cidades, quanto externa, exemplificada pela dona de uma das pensões em que Célio viveria, e por seu chefe imediato, oriundo do mundo germânico. “Seu Volf” (Wolf, por certo) entende a saudade do jovem mineiro, que ele também tem e à qual soma as dificuldades do idioma que o faz tropeçar na pronúncia das palavras. O que terá trazido esses estrangeiros à terra tão distante, sempre me pergunto. É enorme e múltipla a força dos acontecimentos capazes de levar alguém ao exílio e à quase inevitável solidão gerada pela distância – de tempo, de espaço, da memória, da língua da infância.
Se a objetividade social encontra um lugar privilegiado no livro de Ruffato, é porque se desenrola em subjetivação por Célio, nas cartas. Estas, por si só, são hoje expressão de outra época, quando as formas comunicativas exigiam uma síntese que o tempo decorrido demanda, seja na história, seja na memória. Então, são vários os dias entre uma missiva e outra, às vezes lacunas de semanas, que vão mostrando os fenômenos que o jovem trabalhador escolhe – sem talvez deliberar sobre isso – para dar sentido à experiência. Sabemos, portanto, da memória que se coagula a partir dessas escolhas, mas podemos imaginar, e com isso preencher os lapsos. A narrativa facilita tal posição ativa do leitor, uma vez que as cartas têm coesão e coerência, com frases que, mimetizando algo da oralidade da região de origem, economizam pronomes reflexivos.
Emoldurado pela dignidade atribuída ao trabalho e à família como motores da vida, Célio não tem pretensões de ingresso à Universidade, espaço cruelmente distante daquele que parece saber bem o lugar a que foi destinado. Não é este, no entanto, o desejo da moça pela qual se apaixona e com quem pretende um dia se casar. Professora normalista, ela tem ideias emancipadoras que dão, finalmente, medo. À autoafirmação da filha do encarregado do setor na fábrica corresponde a consciência de classe do irmão dela, cuja companhia – mesmo depois da desilusão amorosa – levará Célio para a luta dos trabalhadores contra o capital e a ditadura, já em meados da década.
Mostra-se então, o processo formativo do operário. A boa escrita das cartas, mesmo na simplicidade da linguagem, a vida compartilhada no trabalho, com os colegas e amigos de labor, luta e futebol – que emerge como um importante demarcador da classe trabalhadora –, o aprendizado de saberes técnicos que serão compartilhados com outros, na busca da inclusão daqueles suprimidos até mesmo da ordem do trabalho formal e minimamente qualificado. Classe que alcança na prática e na reflexão sobre ela a consciência de seu lugar no mundo. Com ela, a força para a luta.
Vida urbana em contraste com o ruralismo, organização dos trabalhadores, mulheres que não cumprem as expectativas tradicionais de homens conservadores nos costumes. A singularidade e as angústias de um sujeito que se vira como pode em meio a tudo isso. É o Brasil que decanta suas mudanças em passo incerto e ritmo variável. A literatura de Luiz Ruffato sintetiza expressivamente, e de forma encarnada, o nosso tempo.
Lisboa-Baixa; Berlim-Kreuzberg, junho de 2016.