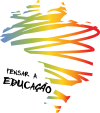Natalino Neves da Silva¹
Práticas educativas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) são diversas e plurais. Elas se realizam em distintos espaços socioculturais, territoriais e políticos. Nesse sentido, refletir acerca de experiências afroindígenas e sua relação com a EJA significa considerar que o contexto social brasileiro é marcado por desigualdades sociorraciais históricas e, ao mesmo tempo, reconhecer outras e novas práticas desenvolvidas em territórios de resistências, conforme propõe a Lei nº 10.639/03 (11.645/08 – atualização) e de suas Diretrizes, no que concerne ao ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena.
O nosso entendimento de território não está subordinado a qualquer tipo de organização de Estado e tampouco pela sua delimitação fixa de fronteiras. A sua compreensão se relaciona com o sentimento de pertencimento sociocomunitário dos povos a partir de seus valores éticos, estéticos, políticos, culturais, religiosos, entre outros.
Desse modo, a noção de território se baseia em relações de poder tanto de dominação quanto de apropriação. Nessa perspectiva, Haesbaert considera que o território “desdobra-se ao longo de um continuum que vai da dominação político-econômica mais ‘concreta’ e ‘funcional’ à apropriação mais subjetiva e/ou ‘cultural-simbólica’” (HAESBAERT, 2004, p. 95-96).
Portanto, a centralidade das experiências educativas de EJA realizadas em territórios quilombolas e indígenas consiste na capacidade de articular os saberes comunitários locais com as distintas formas de pertencimento às territorialidades afroameríndias latino-americanas.
A esse respeito, o texto das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na Educação Básica, no quarto parágrafo do artigo 23, que trata dessa modalidade de ensino, considera que tais práticas devem possibilitar “aos jovens, adultos e idosos quilombolas atuar nas atividades socioeconômicas e culturais de suas comunidades com vistas ao fortalecimento do protagonismo quilombola e da sustentabilidade de seus territórios” (BRASIL, 2012, p.11).
De igual modo, o artigo 12 das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena na Educação Básica, por meio do § 1º, diz que a oferta da EJA, nesse contexto, “deve atender às realidades socioculturais e interesses das comunidades indígenas, vinculando-se aos seus projetos de presente e futuro, sendo necessária a contextualização da sua proposta pedagógica de acordo com as questões socioculturais da comunidade” (BRASIL, 2012, p.11).
Logo, o processo educativo da EJA realizado nesses espaços só tem sentido se ele for, de fato, capaz de dialogar com as realidades socioculturais vividas por esses sujeitos e essas sujeitas nesses territórios. Por conseguinte, determinados rótulos, geralmente verificados no contexto da instituição escolar, como: “defasado”, “repetente”, “analfabeto”, entre outros, não fazem o menor sentido se utilizados nessa situação de aprendizagem, pois, afinal de contas, as práticas educativas ali desenvolvidas estão intrinsecamente vinculadas à promoção do bem viver da vida comunitária.
Nessa direção, a realização dessas experiências, além de ocasionarem novos repertórios socioculturais e outros referenciais emancipatórios de Educação Popular, se constituem como matrizes de conhecimento da EJA Popular Negra. Contudo, infelizmente, nem sempre temos a oportunidade de tomar conhecimento das práticas educativas realizadas nesses territórios de resistências. Além disso, as trocas dessas experiências entre as próprias comunidades quilombolas e indígenas são bastante incipientes ainda hoje.
Daí a necessidade de refletirmos acerca de experiências afroindígenas relacionadas a essa modalidade de ensino, uma vez que o seu intercâmbio é capaz de fortalecer a relação dialógica entre essas comunidades em seus territórios. E mais, a construção de territórios-rede estabelecidos entre esses sujeitos e essas sujeitas pode beneficiar a luta pelo direito humano e social à EJA destinada a jovens, adultos(as) e idosos(as) quilombolas e indígenas.
1 – Professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais.
Para saber mais
BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na Educação Básica. Acesse aqui.
BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena na Educação Básica. Acesse aqui.
HAESBAERT, R. O mito da desterritorialização: do “fim dos territórios” à multi-territorialidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 2004.
Imagem de destaque: Estado da Bahia