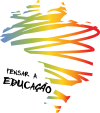Alfredo Johnson Rodríguez
Num importante texto em que polemiza com Marx sobre os fundamentos e as perspectivas do socialismo, Max Weber (1864-1920), inaugura o debate contemporâneo no páreo da teoria da democracia. Com base em sua original análise da modernidade, segundo a qual a “burocracia” desempenha um papel central no Estado moderno e na sociedade industrial que o caracteriza, o sociólogo e filósofo alemão sustenta que a idéia da existência de um só “bem comum” que expressa a vontade racional do todo político, contida na teoria clássica de democracia – particularmente na “democracia direta” -, é inadequada por não ser “realista”. Ou seja, no contexto do Estado moderno, a política como autodeterminação não é mais possível, portanto, é preciso encarar a democracia como um fenômeno realista.
Esta tese conduz Weber à proposição de que a política tem uma dimensão conflitiva, há interesses contrapostos em jogo e, neste sentido, a democracia seria, antes de tudo, um processo de coordenação do conflito protagonizado pelos partidos e pelo parlamento, enfim, pelas elites políticas escolhidas pelas “massas” – “democracia de massas”.
Dentro da vertente do realismo político, surge o intelectual austríaco Joseph A. Schumpeter (1883-1950), com uma formulação inovadora de democracia. Em seu estudo pioneiro (1942) Shumpeter rompe com a concepção utilitarista do “bem comum” da teoria clássica de democracia e argumenta que:
o método democrático é aquele arranjo institucional para se chegar a decisões políticas em que os indivíduos adquirem o poder de decidir por meio de uma luta competitiva pelos votos do povo. (Schumpeter, 1942, p. 269).
Assim, a democracia, concebida como método político, não é um fim em si mesma, mas um arranjo institucional: um conjunto de procedimentos para a escolha de governantes. Todavia, esta definição procedural de democracia, está permeada de uma visão elitista da política, na medida em que Schumpeter sustenta que, sendo o “homem comum” irracional, cabe às elites o papel de governar.
Nesta perspectiva, a “abordagem empírico-descritiva da democracia” torna-se o grande consenso da teoria política no pós-guerra. Acredita-se que este enfoque provê precisão analítica e referenciais empíricos mais compatíveis para compreender a natureza das instituições democráticas, seu funcionamento e as razões pelas quais estas se desenvolvem e entram em colapso.
Exatamente no seio deste consenso emergem as teorias empíricas da democracia, tendo como objeto de análise os recentes processos de democratização dos Estados modernos. Destacam-se neste terreno: a ideia de democracia adversarial de A. Downs (1957), o pluralismo de R. Dahl (1956) e o elitismo democrático de N. Bobbio (1984) e G. Sartori (1987).
Nos últimos anos, entretanto, o enfoque puramente empírico dessas abordagens teóricas vêm sendo alvo de severas críticas. Notoriamente orientadas pelo individualismo metodológico, que fundamenta as diversas vertentes teóricas da “public choice”, as teorias empíricas da democracia privilegiam a lógica do auto-interesse em detrimento da dimensão normativa da ação coletiva, para explicar os fenômenos políticos. Tal atitude analítica estabelece uma dissociação profunda entre fato e valor, ou, como admite o próprio Sartori, “um hiato entre o real e o ideal” (Sartori, Op. cit., p. 13).
Na ótica do filósofo e sociólogo alemão Jürgen Habermas (1994), a democracia precisa de justificação normativa para ter legitimidade política. De acordo com a teoria discursiva por ele proposta, a democracia está estreitamente ligada a um fluxo de comunicação que se processa nas “esferas públicas” e que possibilita a discussão racional, o entendimento mútuo e o estabelecimento do consenso na deliberação de questões de interesse público.
Ao trazer à tona estas considerações, o fundador da “teoria da ação comunicativa” desloca, em última análise, o eixo da investigação teórica do âmbito do Estado – “administração” – e do mercado – “economia” – para a sociedade civil, na tentativa de mostrar que o núcleo normativo de um uso público da razão não pode ser subtraído da política.
Os “discursos políticos” buscam processar intersubjetivamente orientações de valor e interpretar necessidades e desejos. Portanto, os princípios do Estado constitucional são concebidos como sendo respostas consistentes às demandas de institucionalização das formas comunicativas de uma formação democrática da vontade e da opinião política. Enfim, Habermas atribui relevância tanto aos corpos parlamentares quanto às redes informais da esfera pública na democracia, porque ambos espaços são atravessados pela intersubjetividade mais elevada das formas de comunicação que possibilitam a formação mais ou menos racional da opinião e da vontade.
Sob a influência da argumentação habermasiana e/ou motivados por fenômenos relativos: à crise de legitimidade do sistema político nas sociedades democráticas contemporâneas, aos problemas de particularismos e falta de racionalidade nos sistemas políticos, à tematização da cultura política democrática e à emergência de novas formas de participação, outros autores, tais como Gould, Offe, Cohen & Arato e Melucci têm oferecido aportes valiosos ao debate atual sobre a democracia, os quais merecem maior atenção e um processamento mais cuidadoso, pois apresentam-se como elementos cruciais para a reflexão política e a para a reavaliação das teorias empíricas da democracia.
Por fim, permanece vivo o grande desafio de abordar a problemática da democracia contemporânea a partir de bases teóricas mais sólidas e de percursos metodológicos mais amplos e flexíveis.
Se realmente desejamos elucidar as questões da teoria, da prática e das instituições democráticas, na construção de uma cultura e de desenhos institucionais mais justos e eficazes, talvez seja mais pertinente e fértil restabelecer o equilíbrio adequado entre proposições descritivo-explanatórias e considerações ético-normativas.
Para saber mais
ARATO, Andrew & COHEN, Jean (1994). Sociedade Civil e Teoria Social, (in): AVRITZER L. (org.). Sociedade Civil e Democratização p.147-182, Del Rei, MG
BOBBIO, Norbeto. Il Futuro della Democrazia. Uma Difesa delle Regole del Gioco, Giulio Einaudi Editore S.P.A., Turin, 1984.
DAHL, Robert. A Preface to Democratic Theory, Chicago, Univ. of Chicago Press, 1956
DOWNS, A. An Economic Theory of Democracy, New York, Harper, 1957.
HABERMAS, Jürgen. Between Facts and Norms, The MIT Press, Cambridge, Massachusets, 1996.
_________________ Three Normative Models of Democracy, (in): Constellations vol. I, No. 1, Oxford, 1994, p. 1-10.
WEBER, Max. O Socialismo, (in): Max Weber e Karl Marx, editado por René Gertz, Ed. Hucitec, SP, 1997.
Imagem de destaque: Galeria de imagens